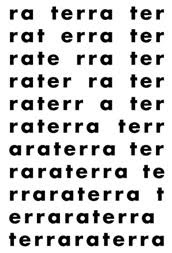FITA VERDE NO CABELO
(Nova velha estória)
Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam. Todos com juízo, suficientemente, menos uma meninazinha, a que por enquanto. Aquela, um dia, saiu de lá, com uma fita verde inventada no cabelo.
Sua mãe mandara-a, com um cesto e um pote, à avó, que a amava, a uma outra e quase igualzinha aldeia. Fita-Verde partiu, sobre logo, ela a linda, tudo era uma vez. O pote continha um doce em calda, e o cesto estava vazio, que para buscar framboesas.
Daí, que, indo, no atravessar o bosque, viu só os lenhadores, que por lá lenhavam; mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo. Pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então, ela, mesma, era quem se dizia: – “Vou à vovó, com cesto e pote, e a fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe me mandou”. A aldeia e a casa esperando-a acolá, depois daquele moinho, que a gente pensa que vê, e das horas, que a gente não vê que não são.
E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo, e não o outro, encurtoso. Saiu, atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vindo-lhe correndo, em pós. Divertia-se com ver as avelãs do chão não voarem, com inalcançar essas borboletas nunca em buquê nem em botão, e com ignorar se cada uma em seu lugar as plebeiinhas flores, princesinhas e incomuns, quando a gente tanto por elas passa. Vinha sobejadamente.
Demorou, para dar com a avó em casa, que assim lhe respondeu, quando ela, toque, toque, bateu:
– “Quem é?”
– “Sou eu...” – e Fita-Verde descansou a voz. – “Sou sua linda netinha, com cesto e pote, com a fita verde no cabelo, que a mamãe me mandou.”
Vai, a avó, difícil, disse: – “Puxa o ferrolho de pau da porta, entra e abre. Deus te abençoe.”
Fita-Verde assim fez, e entrou e olhou.
A avó estava na cama, rebuçada e só. Devia, para falar agagado e fraco e rouco, assim, de ter apanhado um ruim defluxo. Dizendo: – “Depõe o pote e o cesto na arca, e vem para perto de mim, enquanto é tempo.”
Mas agora Fita-Verde se espantava, além de entristecer-se de ver que perdera em caminho sua grande fita verde no cabelo atada; e estava suada, com enorme fome de almoço. Ela perguntou:
– “Vovozinha, que braços tão magros, os seus, e que mãos tão trementes!”
– “É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta...” – a avó murmurou.
– “Vovozinha, mas que lábios, aí, tão arroxeados!”
– “É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha neta...” – a avó suspirou.
– “Vovozinha, e que olhos tão fundos e parados, nesse rosto encovado, pálido?”
– “É porque já não te estou vendo, nunca mais, minha netinha...” – a avó ainda gemeu.
Fita-Verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez.
Gritou: – “Vovozinha, eu tenho medo do Lobo!...”
Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo.
ROSA, João Guimarães. Ave palavra. In: Ficção completa, v. 2. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 981-982.